
Marguerite Yourcenar, pseud√īnimo de Marguerite Cleenewerck de Crayencour (Yourcenar √© um anagrama de Crayencour) (Bruxelas, 8 de junho de 1903 ‚ÄĒ Mount Desert Island, 17 de dezembro de 1987), foi uma escritora belga de l√≠ngua francesa.
Memórias de Adriano
Não estamos mais acostumados a matar. Nossos avós matavam animais para comer, tinham consciência presente de que a vida provém da morte, de que nossa vida é mantida graças à morte de outros seres. Nós não matamos, compramos a carne na loja já beneficiada, nem lembra o bicho a que pertenceu, não parece um cadáver.
Assim, a morte, para nós, é tabu: perdemos a consciência de que comer é matar, viver é matar, morte e vida são partes do mesmo ciclo natural.
A respeito disso ensina Campbell:
Os primeiros homens perceberam o mundo sobrenatural, para onde os animais ca√ßados pareciam ir quando morriam. Um ‚Äėsenhor dos animais‚Äô mandava de volta as feras para tornarem a ser ca√ßadas. A ess√™ncia da vida subsiste gra√ßas ao matar e comer. Esse √© o grande mist√©rio que os mitos t√™m de enfrentar. A ca√ßa tornou-se um ritual de sacrif√≠cio, de expia√ß√£o diante dos esp√≠ritos dos animais mortos, para coagi-los a retornar, para serem sacrificados de novo. Havia um m√°gico acordo entre ca√ßador e ca√ßa. (...) Se hoje damos gra√ßas a deus pelo alimento, antes de comer, isso √© resqu√≠cio da mitologia primitiva quando as pessoas agradeciam ao animal, que estava prestes a ser comido, por ter-se doado em sacrif√≠cio. Nos upanixades uma prece diz: ‚Äúoh maravilhoso, eu sou alimento, eu sou comedor de alimento‚ÄĚ. Hoje n√£o pensamos assim, n√£o nos consideramos alimento, mas isso representa interromper o fluxo, e a libera√ß√£o do fluxo √© a grande experi√™ncia do mist√©rio. (...) Quando passaram da ca√ßa ao plantio, as hist√≥rias mudaram. A semente se tornou s√≠mbolo m√°gico do ciclo infinito. A planta morria, era enterrada e sua semente renascia. A semente foi incorporada como s√≠mbolo pelas religi√Ķes: a vida prov√©m da morte e a bem-aventuran√ßa do sacrif√≠cio. (O Poder do Mito, p. 183 e seguintes, passim).
Os trechos das Mem√≥rias de Adriano que evocavam o sacrif√≠cio de animais para honrar deuses, e o sacrif√≠cio de homens para obter e manter o poder, territ√≥rios, cidades, posi√ß√Ķes estrat√©gicas e mais poder, frisam a naturalidade com que a gente antiga encarava a morte. Adriano manda seu cunhado e antagonista suicidar-se, e este obedece; decretar a morte do opositor era natural no jogo pol√≠tico daquele momento, como hoje em dia a corrup√ß√£o parece ser natural nesse mesmo jogo. Adriano era um pacifista, sonhava com um imp√©rio pacificado. Para alcan√ßar esse fim n√£o titubeou em usar os meios mais cru√©is. Com naturalidade, sem paix√£o nem compaix√£o, friamente.
Guerrear, invadir, matar milhares, pilhar, subjugar, eram expedientes tétricos que na visão do estadista asseguravam para seu povo sobrevivência, paz e prosperidade. Pensava ser seu papel como governante fazer girar a roda do destino, que eleva uns e esmaga outros. Cabia a ele manter em atividade o fluxo de morte gerando vida que gera mais morte.
A Vila Adriana era um mini-mundo, um recordat√≥rio milion√°rio, uma cole√ß√£o dos lugares preferidos do imperador, um imenso museu habit√°vel, um parque de divers√Ķes tem√°tico e megaloman√≠aco da cultura helen√≠stica e eg√≠pcia. Lembrou-me o Xanadu do cidad√£o Kane. E me deu a impress√£o de que, no fim da sua experi√™ncia de homem e governante, Adriano concluiu que o mundo real n√£o era satisfat√≥rio, nao servia, e tentou criar um outro, s√≥ seu, uma terra do nunca, um mundo de fantasia isolado do mundo real, uma bolha de ilus√£o para se refugiar. Adriano teve por vinte anos um imp√©rio inteiro em suas m√£os. N√£o bastou. No fim da vida, precisou criar um outro reino, √† sua imagem e semelhan√ßa, e esconder-se l√°.
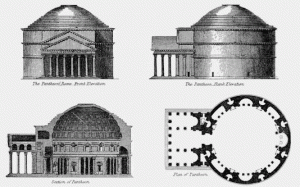
O Pante√£o de Roma, edificado no governo de Adriano
O Panteão de Roma é um exemplo majestoso de geometria sagrada e simbólica. Se Adriano realmente interferiu no desenho da planta, como o livro sugere, então era um grande iniciado. A parte inferior da planta é um meio-cubo, cujo traçado pode ser imaginado continuando além do seu limite superior, onde começa um semicírculo de idêntica altura. As duas figuras, o semicírculo de cima e o quadrado de baixo, podem ser imaginados se completando na extremidade oposta. Há ali uma esfera perfeita, inserida dentro de um cubo perfeito. Um círculo e um quadrado, dois símbolos universais e imemoriais do universo, da totalidade, da completude. Duas mandalas. Evoca a quadratura do círculo, de que falavam os alquimistas.
O quadrado representa o est√°tico, o firme, o terrestre, o feminino, o tel√ļrico, o yin (Cirlot, p.481), enquanto o c√≠rculo simboliza o movimento, o din√Ęmico, o c√©u, o masculino, o yang (idem, p.163). O c√≠rculo representa a psique, e o quadrado o corpo (Jaff√©, in Jung, o Homem e seus s√≠mbolos, p.249). O majestoso Pante√£o n√£o √© s√≥ o encontro de todos os deuses, representantes de todas as for√ßas da natureza que o homem aprendeu institinvamente a respeitar: √© tamb√©m a uni√£o do c√©u e da terra, do corpo e da alma, do masculino e do feminino. Diz Robert Lawlor:
O quadrado representa a terra, abarcada num qu√°druplo abra√ßo pela ab√≥bada circular do c√©u e, portanto, submetida √† roda do tempo em constante movimento. Quando o incessante movimento do universo, representado pelo c√≠rculo, d√° passagem √† ordem compreens√≠vel, surge o quadrado. O quadrado pressup√Ķe por isto o c√≠rculo e √© resultado deste. A rela√ß√£o entre forma e movimento, espa√ßo e tempo, √© evocada na mandala. (Geometria Sagrada, p.16).
Na linha central da esfera ficavam os deuses, os romanos e os estrangeiros. Como estavam todos na mesma linha, correspondente à circunferência, nenhum deles ficava acima do outro, ou mais perto do centro. E os sete altares principais honravam os sete planetas então conhecidos.
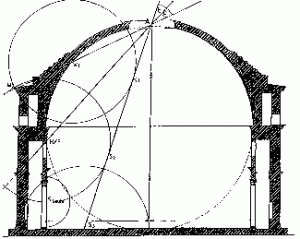
O interior do Panteão que Adriano mandou construir em Roma, com linhas destacando os traçados de geometria sagrada encontrados ali.
Do lado de fora, dezesseis colunas sustentando o front√£o. As colunas t√™m 14 metros de altura, a porta principal 7 metros. Os romanos n√£o usavam nosso sistema m√©trico, mediam em p√©s. Cada p√© romano media 43 cent√≠metros aproximadamente. A porta teria, ent√£o, 16 p√©s, e cada coluna 32 p√©s. 16 e 32, m√ļltiplos de 4 e de 8. O 4 e seus m√ļltiplos s√£o, segundo Jung, s√≠mbolos do arqu√©tipo da totalidade, o self, assim como o c√≠rculo e o quadrado.
 Busto do imperador Adriano
Busto do imperador AdrianoFoi talvez por isso que o livro me decepcionou desde o come√ßo. Adriano aparece ali como um homem, um homem comum. N√£o h√° nada de her√≥ico na sua figura humana. Foi colocado na posi√ß√£o de homem mais poderoso do seu mundo e do seu tempo, mas embora o papel fosse grandioso, o ator era apenas um ser comum. N√£o estava livre dos v√≠cios e fraquezas de qualquer outro homem. Seus muitos talentos n√£o o tornavam sobre-humano nem o libertavam das muitas frustra√ß√Ķes que a vida real imp√Ķe equanimemente a todos.
Talvez seja essa, enfim, a mensagem da obra, o propósito da autora. Mostrar que o berço de ouro, a riqueza, a ilustração e a cultura, o poder e a popularidade, ou mesmo um destino grandioso, não fazem do seu titular alguém melhor. Como Adriano, sendo apenas um homem, ostentou com dignidade o seu papel de destaque no cenário do seu mundo, talvez caiba ao homem comum desempenhar também dignamente seu papel de figurante na história do seu tempo.
Fiquei pensando, depois, que a própria autora, educada em casa, aprendendo latim aos 8, grego aos 11 anos, seria uma personagem mais interessante que Adriano.
Adriano encarnava em si o ideal grego do homem completo, artista, político, atleta e guerreiro. Não esquecer, todavia, que esse ideal era para o homem de posses. O que tinha de trabalhar para ganhar o sustento provavelmente não tinha tempo e energia para voos tão altos.
Com tudo isso, n√£o consegui escapar de achar o livro cansativo e longo demais.
S√£o ineg√°veis, √© evidente, o engenho e o talento narrativo de Marguerite Yourcenar. Um escritor menos dotado n√£o teria conseguido escrever uma obra assim, corajosa na concep√ß√£o e na execu√ß√£o: tratava-se de reconstruir uma vida sobre a qual poucos documentos existem, e a autora escolheu faz√™-lo na forma de uma carta de 300 p√°ginas, sem nenhum di√°logo. Nas m√£os de outro, talvez o resultado fosse monstruoso. Mas Yourcenar o fez com eleg√Ęncia, abund√Ęncia de recursos narrativos, imagens ricas e pensamentos profundos. O defeito, talvez, √© que o leitor a todo tempo se recorda de que a bela filosofia de vida e vis√£o de mundo que o livro exp√Ķe n√£o √© de Adriano, √© de Marguerite. A fala sobre as diferentes express√Ķes da escravid√£o, no passado e no futuro, por exemplo, √© arguta e precisa. Mas √© pouco prov√°vel que Adriano, no seu tempo, tivesse essa vis√£o. N√£o √© a vis√£o prospectiva de Adriano, mas a vis√£o retrospectiva de Marguerite que aparece.
De modo que o leitor fica encantado com a acurada análise que o livro faz do mundo e dos homens, mas fica sempre com a impressão de estar sendo logrado, de ter lido não as memórias de Adriano, mas as de Marguerite.
Comente este artigo